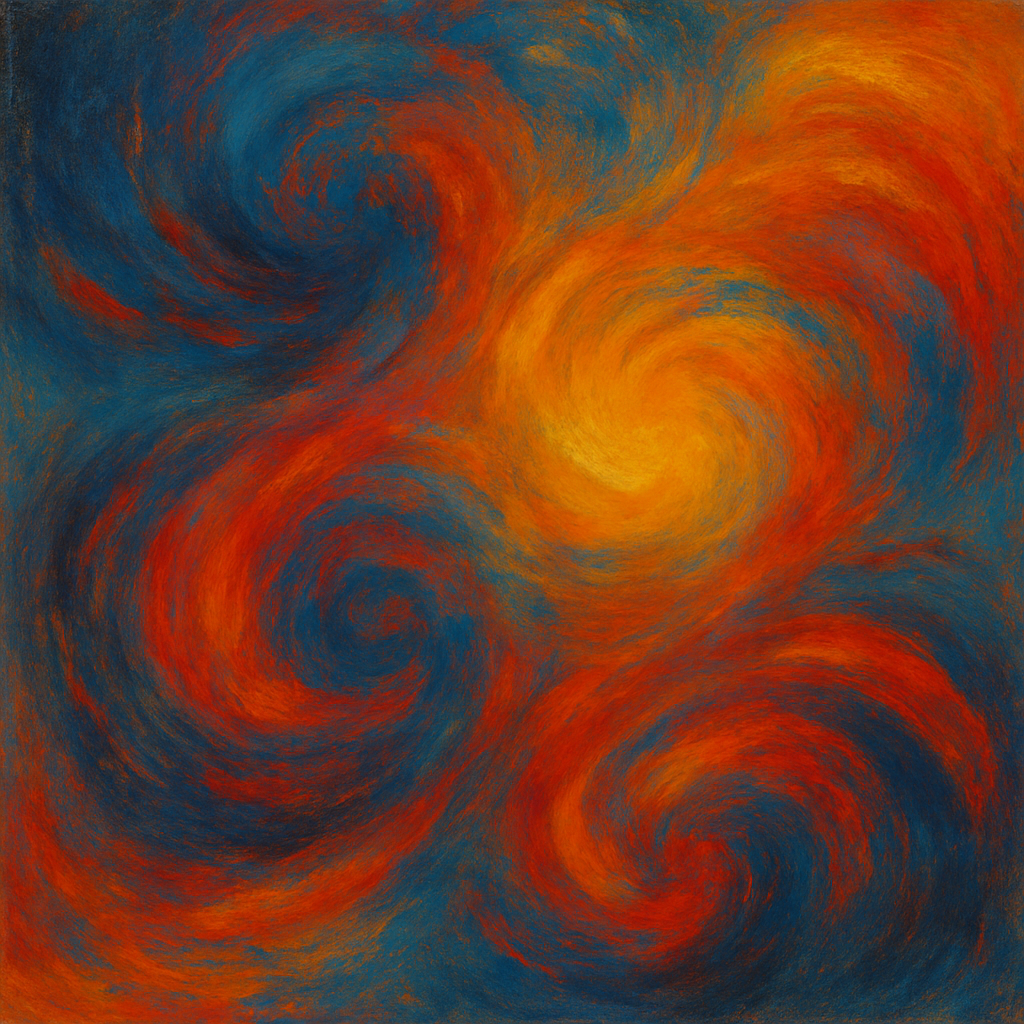
Por que devemos questionar a religião?
A religião do consumo ritual e o desejo programado
A palavra “religião” geralmente nos remete a templos, dogmas, escrituras sagradas e práticas espirituais. Porém, se a entendermos como aquilo que Mircea Eliade definiu como um sistema de princípios fundamentais organizados em torno de mitos, ritos, arquétipos e magia — ou fetichismo —, então o religioso vai muito além do teológico. Na verdade, está vivo e operando mesmo em contextos que se autodenominam laicos, racionais ou modernos. Questionar a religião, portanto, não significa necessariamente duvidar de um deus, mas sim interrogar os sistemas simbólicos e práticos que organizam nossa percepção da realidade, nossas escolhas e nossos desejos. E isso, hoje mais do que nunca, é urgente.
O capitalismo liberal ocidental funciona como uma religião moderna. Possui seu mito fundacional — o indivíduo autônomo e livre que se realiza (economicamente) pelo mérito e pelo esforço —, seus ritos cotidianos — consumo, trabalho, competição —, seus arquétipos — o empreendedor bem-sucedido, o investidor, o “self-made man” — e, é claro, seu objeto mágico: o dinheiro, que atua como fetiche capaz de transformar qualquer coisa em valor. Essa religião não se apresenta como tal, mas opera com uma potência simbólica que organiza nossas vidas em todos os seus aspectos. Ela nos diz o que vale a pena, o que é desejável, o que é fracasso e o que é liberdade. Assim como um martelo vê tudo como um prego, nossa subjetividade, moldada por esse sistema, tende a ver tudo — inclusive nós mesmos e os outros — como recursos, meios, coisas úteis ou descartáveis.
Quando não questionamos esse sistema simbólico, deixamos que ele determine como nos relacionamos com os demais. O outro, quando não responde aos valores da nossa religião, passa a ser visto como um erro, uma anomalia ou uma ameaça. Nós o reduzimos. Julgamos. Deixa de ser alguém com sentido próprio e se torna um obstáculo ou uma falha. E se não questionarmos o sistema que nos faz pensar assim, só conseguiremos nos relacionar de fato com quem se encaixa nele. Todos os outros, cedo ou tarde, serão deixados de fora. Sem crítica, não há hospitalidade real, não há empatia profunda. Só há tolerância estratégica e distância disfarçada de inclusão.
Mas não é apenas o outro que sofre com esse automatismo simbólico. Nosso próprio futuro também está em jogo. Quando não questionamos a religião que estrutura nossos desejos, o amanhã se reduz a uma série de opções pré-fabricadas. Escolhemos dentro de um menu que não criamos, sonhamos o que o sistema nos permite imaginar e confundimos repetição com liberdade. Nossas decisões se inscrevem numa lógica que já foi decidida por nós, mesmo que acreditemos estar escolhendo. Mudamos de forma sem mudar de fundo, girando em um ciclo onde o que parece novidade é apenas uma variante autorizada do mesmo. Assim, o que sentimos como escolha é obediência. O que vivenciamos como liberdade é automatismo.
Questionar a religião não é destruir o sentido, mas recuperar a possibilidade de criá-lo. É interromper o automatismo, abrir uma fissura no roteiro, desafiar o desejo que já vem escrito. Significa deixar de agir como se tudo fosse um prego só porque fomos educados como martelos. Porque, se não o fizermos, se não ousarmos interrogar a lógica que nos habita, o verdadeiramente novo jamais poderá acontecer.