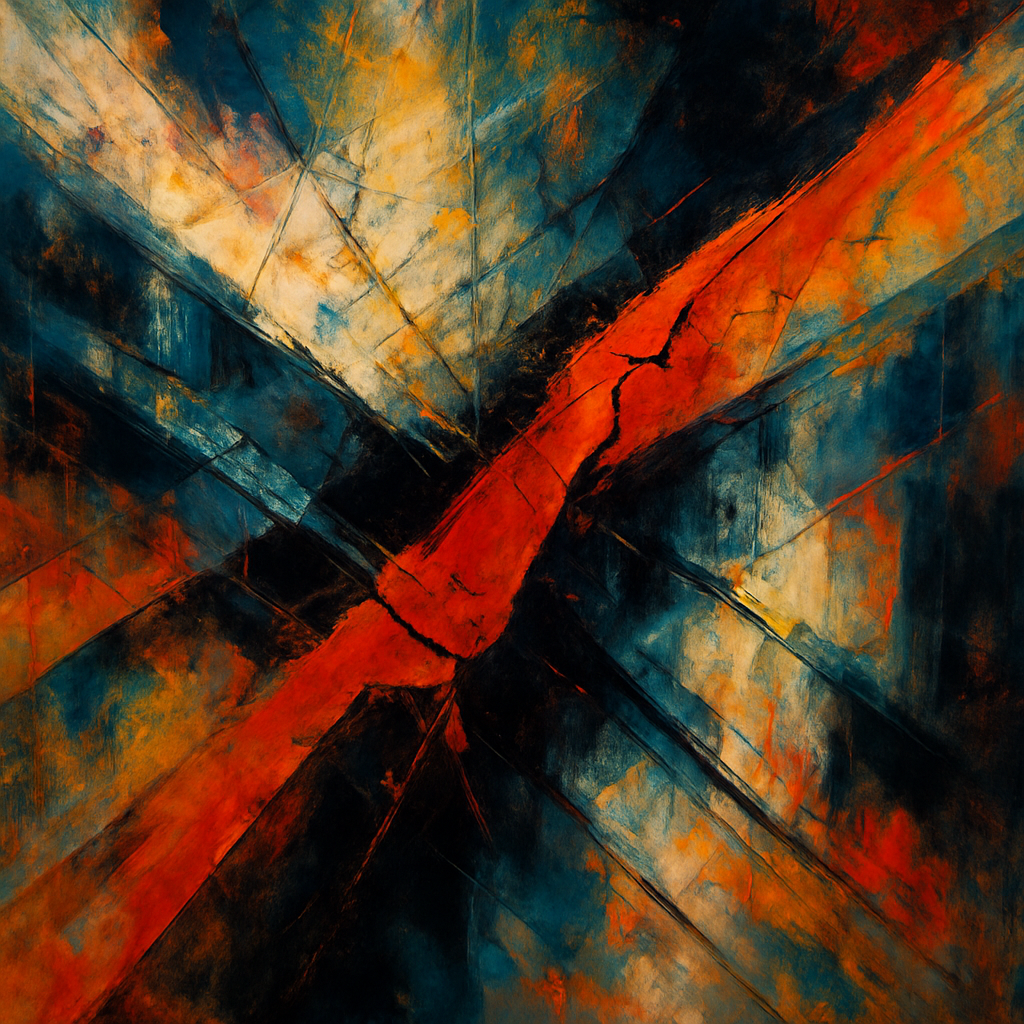
Por que a Inteligência Artificial significa o fim do capitalismo? · Parte III: O fim como ruptura
Nenhum sistema humano terminou em silêncio. Nem impérios, nem religiões hegemônicas, nem modelos econômicos que pareciam inquebráveis se desfizeram de forma gradual e ordenada. Os sistemas humanos não se concluem: eles se rompem. Mantêm-se enquanto conseguem convencer a maioria de que sua existência é natural, necessária ou ao menos tolerável; mas quando esse apoio se desfaz, quando a legitimidade evapora, o fim não adota a forma de uma extinção progressiva, mas de uma fratura. Às vezes essa ruptura é física, em forma de guerra ou revolução; outras vezes é institucional, simbólica ou psicológica, um colapso menos visível mas igualmente devastador, em que aquilo que parecia estável desaba de maneira súbita.
A história está repleta desses rompimentos. O Império Romano não saiu de cena para dar lugar a uma nova era: colapsou em meio a guerras internas, desabastecimento, corrupção e uma perda irreversível de confiança na promessa imperial. As monarquias absolutas europeias não cederam espaço à democracia por um gesto ético, mas porque o Antigo Regime deixou de oferecer qualquer justificativa minimamente crível para seguir existindo. A Reforma Protestante não foi uma transição doutrinária ordenada, e sim um cisma que explodiu quando a Igreja já não pôde sustentar a concordância entre seu discurso espiritual e sua prática institucional. Até mesmo a URSS, um dos projetos políticos mais rigidamente organizados do século XX, não desapareceu por derrota militar: se quebrou ao esgotar sua legitimidade ideológica e produtiva, quando a população deixou de acreditar no relato que dava sentido a décadas de sacrifício.
A constante histórica é clara. As sociedades podem tolerar por gerações condições que, vistas com o distanciamento do tempo, parecem insuportáveis: fome, desigualdade extrema, repressão, exploração sistemática. Mas nenhuma estrutura sobrevive quando a maioria deixa de aceitar, mesmo que seja de forma passiva, resignada ou silenciosa. Porque todo sistema humano, por mais concentrado que esteja em uma elite — reis, sacerdotes, burocratas, tecnocratas ou magnatas —, depende sempre, de algum modo, de uma legitimação social ampla. Essa legitimação pode assumir múltiplas formas: medo, fé, prosperidade, hábito, resignação. Mas quando ela desaparece, até sistemas que pareciam eternos desabam. A aristocracia francesa viveu séculos convencida de seu direito natural de existir até que a combinação de fome, crise fiscal e humilhação cotidiana tornou impossível sustentar a ficção. O mesmo aconteceu com os impérios coloniais após a Segunda Guerra Mundial ou com as ditaduras latino-americanas que se mantiveram enquanto a população aceitou, por desespero ou medo, sua autoridade. Quando um sistema perde a capacidade de persuadir, intimidar ou inspirar a maioria, não se reforma: se rompe.
Para entender por que o capitalismo contemporâneo se aproxima desse tipo de ruptura, é necessário voltar à Guerra Fria, seu momento de maior legitimação histórica. Durante esse período, o capitalismo foi obrigado a mostrar seu melhor rosto, não por altruísmo, mas por rivalidade geopolítica. Diante do comunismo soviético — capaz de articular um relato alternativo e uma promessa redistributiva —, o capitalismo implementou políticas que hoje parecem excepcionais: sistemas amplos de bem-estar, direitos trabalhistas robustos, sindicatos com real poder de negociação, acesso generalizado à educação, saúde e moradia. Entre as décadas de 1950 e 1970, em grande parte do Ocidente, os níveis de redistribuição atingiram recordes históricos: alíquotas marginais sobre grandes fortunas superiores a 70%, crescimento salarial vinculado ao aumento da produtividade e uma redução constante da desigualdade. Não foi uma transformação moral do sistema, mas um parêntese funcional: uma suspensão temporária de sua lógica para preservar a legitimidade.
Esse parêntese terminou assim que desapareceu o antagonista. A queda do Muro de Berlim não marcou apenas o fim do socialismo real; libertou o capitalismo de qualquer obrigação de contenção. A acumulação, a desregulamentação e a maximização do lucro voltaram ao centro. O neoliberalismo não foi um desvio ideológico, mas o retorno do capitalismo à sua direção original.
Nesse novo cenário, o sistema demonstrou algo decisivo para entender sua crise atual: pode funcionar enquanto exclui uma parte massiva da humanidade. Durante quatro décadas, o capitalismo não prescindiu dos 50% mais pobres do planeta; ele os explorou em condições de extrema precarização do trabalho, salários de sobrevivência e vidas reduzidas à mera existência. Não garantiu uma qualidade de vida mínima, nem direitos básicos estáveis, nem segurança material. Utilizou essa metade da população quando necessário — em fábricas, campos, construção ou serviços— e a descartou quando deixou de ser lucrativo. E, ainda assim, o sistema não colapsou: expandiu-se, sofisticou-se, globalizou-se e concentrou riqueza como nunca antes.
Fez isso porque ainda mantinha sua base de legitimação. O capitalismo continuou operando ao manter dentro do pacto aproximadamente a metade restante da população: uma elite reduzida e uma ampla classe média global. Não porque essa classe média fosse moralmente mais relevante, mas porque era funcional.
Esse equilíbrio frágil da classe média global — cerca de 40% da população mundial — começa a se romper quando a automação cognitiva, possibilitada pelo desenvolvimento da IA, ameaça justamente o grupo que ainda legitimava o sistema. Durante décadas, o capitalismo se sustentou no pacto do trabalho: emprego estável, carreira ascendente, esforço recompensado, identidade construída em torno do mérito. Esse pacto foi a espinha dorsal da classe média. Mas quando a IA torna obsoletos não só os trabalhos manuais, mas também os administrativos, técnicos, criativos e profissionais, esse contrato simbólico se desintegra. Avançar nessa direção já não implica excluir metade da população, mas empurrar o sistema a um cenário em que até 90% da humanidade pode ser estruturalmente relegada.
Durante quarenta anos, o capitalismo omitiu deliberadamente os 50% mais pobres da população sem garantir nem mesmo condições mínimas de vida. Ao mesmo tempo, confundiu a classe média global através de um bipartidarismo que, sob promessas recorrentes de ascensão social e estabilidade, resultou sistematicamente em mais pressão tributária sobre a renda, endividamento estrutural vitalício e políticas redistributivas que nunca tocaram as grandes fortunas. O mérito foi usado como ferramenta de domesticação e o endividamento como forma de controle. Dar o mínimo para extrair o máximo foi a fórmula que permitiu ao sistema se sustentar, enquanto excluía um em cada dois seres humanos. A questão já não é se pode continuar fazendo isso, mas por que acredita que pode.
E há razões para acreditar nisso.
A primeira é histórica e antropológica. As elites nunca souberam parar. Reis convencidos de seu direito divino, imperadores obcecados com sua eternidade, aristocratas agarrados a privilégios irracionais, magnatas que veem a riqueza como sinal de predestinação. A elite capitalista global não é diferente. Age como se sua posição fosse natural, permanente e inquestionável, mesmo quando o sistema do qual depende mostra sintomas claros de esgotamento.
A segunda razão é estrutural. A financeirização rompeu o vínculo entre população e riqueza. A economia já não depende diretamente do trabalho nem do consumo da maioria. A riqueza se reproduz em circuitos autônomos — dívida, derivativos, especulação e fundos de investimento — que permitem ao capital crescer à margem da vida material da população. Essa ficção de autossuficiência se sustenta sobre uma regra fundamental: o jogo está viciado desde o começo, pois 1% da população controla cerca de 50% dos ativos financeiros. A casa sempre vence.
A terceira razão é matemática. Fora da elite, resta aproximadamente 25% da riqueza mundial a ser absorvida. Moradia, educação, saúde, poupança e pensões tornaram-se os últimos territórios de extração. De dentro do sistema, resta pouco a capturar, mas o suficiente para continuar avançando, reforçado pela experiência de quatro décadas em que pôde deixar metade da humanidade de fora sem consequências imediatas.
Essas dinâmicas convergem em um erro fatal: o capitalismo acredita que pode continuar sem a maioria porque aprendeu a prescindir dela. Mas essa ilusão entra em choque com a mecânica histórica de todos os sistemas humanos. Nenhuma estrutura sobrevive quando a distância entre elite e população torna-se ilimitada, quando a legitimidade evapora e a vida cotidiana se converte numa experiência contínua de precariedade.
O capitalismo contemporâneo, porém, introduz uma novidade inquietante. Nunca um sistema contou com um aparato tão sofisticado de gestão do mal-estar, dissuasão, vigilância, entretenimento e produção simbólica. A erosão de legitimidade que no passado desaguava em rupturas visíveis hoje pode se diluir em sociedades atomizadas, despolitizadas, onde o esgotamento nem sempre se converte em ação coletiva. Por meio de um aparato de comunicação global sem precedentes, concentrado em pouquíssimos atores, com acesso ilimitado à difusão ideológica e ao entretenimento imediato, o sistema pode se prolongar administrando a frustração sem resolvê-la.
O mundo que habitamos não se parece com a distopia de Orwell em 1984. Assemelha-se cada vez mais à de Huxley em Admirável Mundo Novo: segmentação social estagnada, doutrinação passiva disfarçada de cultura popular, anestesia farmacológica, entretenimento infinito como substituto do sentido. Não é preciso reprimir em massa quando se pode distrair de forma permanente. Não é preciso convencer quando basta entreter.
Mas até essas mutações têm limite. Nenhum sistema pode se sustentar indefinidamente quando a experiência material da maioria se converte numa sucessão contínua de perdas, precariedade e esgotamento. A gestão digital do descontentamento pode adiar a ruptura, mas não a abolir. Pode adormecer o sintoma, mas não curar a doença. Uma ordem que confia sua sobrevivência à dissuasão, à vigilância e à precarização pode prolongar sua agonia, mas não mudar seu destino.
Educados na imediatidade, no consumo como substituto do desejo e no entretenimento como anestesia, só concebemos dois cenários: o colapso imediato ou sua impossibilidade. Se não acontece agora, assumimos que jamais acontecerá. Mas a história não funciona assim. A maioria dos sistemas não colapsa quando se espera; a história humana se mostrou explicável, mas não previsível.
Aí reside a paradoxo final. O capitalismo automatizado pode não se romper de forma abrupta. Pode degradar-se lentamente, mutar, persistir como uma estrutura difusa e vazia. Mas se continuar supondo que a precarização total da vida para a maioria pode ser gerida com mais dissuasão, mais tecnologia e mais fragmentação social, acabará encontrando o mesmo limite histórico que atingiram todos os sistemas que levaram longe demais sua lógica interna. Pode adiar a ruptura. Pode disfarçá-la. Pode anestesiá-la. Mas não pode evitá-la se sacrificar a base humana que o sustenta.