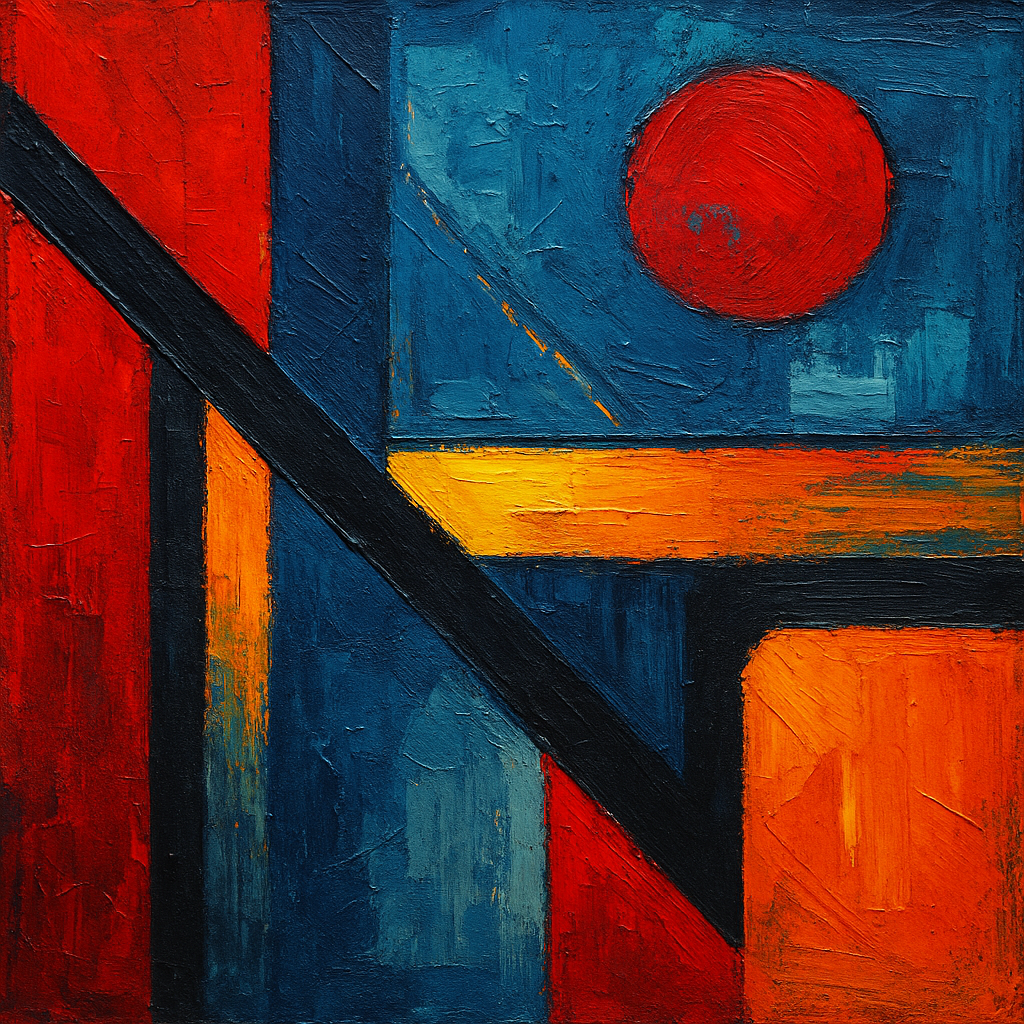
Por que as tarifas para a China não significam o mesmo que as tarifas para a Europa?
As tarifas como símbolo de declínio ou reafirmação geopolítica
Durante as primeiras décadas do século XIX, a China era a principal potência do leste asiático, com uma estrutura imperial consolidada, uma economia agrária altamente produtiva e uma cultura que se via como o centro civilizado do mundo. O termo Zhōngguó (中国) — “Império do Centro” — não era uma simples etiqueta geográfica, mas uma afirmação política e cosmológica: a China se considerava o eixo natural da ordem, em torno do qual giravam civilizações menores, em uma hierarquia tributária que refletia tanto a superioridade moral quanto a estabilidade institucional do sistema dinástico.
Em termos econômicos, a China era uma potência pré-industrial manufatureira. Sua agricultura, baseada em técnicas intensivas e sistemas de irrigação bem desenvolvidos, garantia uma segurança alimentar duradoura. Sobre essa base floresciam setores artesanais de altíssima sofisticação: a seda, a porcelana e o chá não eram apenas bens de luxo na Europa, mas símbolos de uma capacidade técnica que o continente admirava sem conseguir replicar. O chá chinês, em particular, tornou-se uma obsessão nacional para a Inglaterra desde o século XVIII, chegando a representar 90% de suas importações vindas da China no início do século XIX.
O comércio com potências europeias, no entanto, era severamente restrito. Só era permitido no porto de Cantão (Guangzhou) e sob estrita supervisão do Estado. Além disso, o império não demonstrava interesse pelos produtos europeus, considerados inferiores ou irrelevantes para a economia chinesa. Como as autoridades exigiam que as transações fossem realizadas exclusivamente em prata, gerou-se um desequilíbrio crônico na balança comercial: o Reino Unido — recém-saído da Revolução Industrial — exportava grandes quantidades de prata para a China, mas não conseguia vender produtos em proporção. Esse fluxo unidirecional enfraquecia as reservas monetárias britânicas e se tornava uma anomalia estratégica que o império, já em plena expansão global, não estava disposto a suportar indefinidamente.
O Império Britânico, através da Companhia Britânica das Índias Orientais, iniciou uma estratégia para reverter a balança comercial desfavorável. Cultivou ópio na Índia britânica e o introduziu ilegalmente na China por meio de comerciantes privados apoiados pela diplomacia imperial. Assim, a prata que antes fluía para a China começou a sair dela, e o ópio passou de mercadoria marginal a elemento estrutural na economia informal do império.
Em 1839, as exportações britânicas de ópio para a China excediam 1.400 toneladas anuais. O vício se espalhava por todas as classes sociais. O Estado Qing, diante de uma crise sanitária e moral, tentou frear a entrada do ópio. A resposta britânica foi a guerra. A Primeira Guerra do Ópio (1839–1842) culminou com o Tratado de Nanquim, que impôs a abertura forçada de portos, a legalização do ópio, o pagamento de indenizações e a cessão de Hong Kong. A isso se seguiram outros tratados semelhantes.
As consequências foram devastadoras. A economia se desestruturou, a indústria artesanal colapsou, e o tecido social foi abalado pela expansão do vício. Por volta de 1880, as exportações britânicas de ópio superavam 6.500 toneladas anuais. Estima-se que cerca de 27% da população masculina adulta era dependente do ópio no final do século XIX. A China, que fora um centro civilizacional, tornou-se uma economia intervinda e um território fragmentado. O ópio não foi apenas uma mercadoria: foi a arquitetura silenciosa de uma rendição estrutural.
A proibição efetiva do ópio só chegou com a consolidação do poder do Partido Comunista da China em 1949. Foi um dos primeiros gestos simbólicos do novo regime, marcando o fim do ciclo de submissão e o início de um projeto de reconstrução soberana. O Partido não se apresentou apenas como vencedor de uma guerra civil, mas como o sujeito político que poria fim a mais de um século de humilhações estrangeiras.
Esse relato se estruturou em torno da noção de "século da humilhação" (1839–1949), categoria histórica e emocional que configura a memória coletiva moderna. As Guerras do Ópio, os tratados desiguais, a invasão japonesa e a perda de territórios são lidos como uma cadeia de espoliações diante da qual a fundação da República Popular não é apenas uma resposta política, mas uma reparação existencial.
Essa narrativa está institucionalizada: ensina-se nas escolas, comemora-se em datas pátrias, atravessa museus, livros didáticos e discursos do Estado. Também se expande na cultura popular: filmes, séries, romances e videogames recriam episódios de ocupação e resistência. A ideia transmitida é clara: a humilhação não foi o fim, e sim a origem de uma nova consciência nacional.
As tarifas de Trump como espelho: onde o Ocidente perde sentido, a China encontra reafirmação
Em 2025, quando o governo de Donald Trump impõe uma nova onda de tarifas, não apenas contra a China, mas também contra seus aliados históricos — como Alemanha, Japão ou França —, o que se rompe no Ocidente não é simplesmente um tratado comercial, mas o relato fundacional do capitalismo liberal, sustentado desde o pós-guerra em axiomas como o livre comércio, a abertura de mercados, a neutralidade da economia frente à política e a interdependência como princípio de ordem global.
O uso do protecionismo como arma estratégica contra aliados rompe a lógica do benefício mútuo e expõe uma fissura entre os princípios proclamados e o exercício real do poder. Para a Europa e outros parceiros tradicionais dos EUA, as tarifas significam mais que uma perda econômica: representam um golpe simbólico. O garante da ordem liberal deixa de garanti-la. O mercado já não aparece como um espaço neutro: transforma-se em campo de batalha.
Para a China, ao contrário, esse mesmo gesto atua como confirmação. O Partido Comunista não concebe o mercado como uma entidade autônoma, mas como uma ferramenta do Estado. Desde 1949, o modelo chinês combina planejamento estatal, proteção seletiva e abertura controlada. As reformas não buscam se render à ordem global, mas integrar-se sem ceder o controle sobre suas decisões estratégicas.
O plano «Made in China 2025», lançado há mais de uma década para reduzir a dependência tecnológica e liderar setores-chave, já alcança mais de 86% de suas metas, consolidando a China como líder mundial em trens de alta velocidade, baterias, painéis solares, robótica e veículos elétricos. As sanções não enfraquecem essa política: aceleram-na. O desacoplamento não surpreende a China: faz parte de sua hipótese de base. O que no Ocidente é experimentado como crise, na China é vivido como validação.
A narrativa chinesa não se enfraquece diante do conflito: reafirma-se como expressão de uma coerência histórica sustentada. No século XIX, uma potência estrangeira usou o comércio para minar sua soberania; hoje, diante de novas formas de pressão econômica, a China não acusa ruptura, mas reafirma os fundamentos que cultiva de forma constante há mais de sete décadas. Fundamentos não apenas estratégicos, mas também históricos, culturais e morais, que estruturam seu projeto nacional desde 1949. Enquanto no Ocidente as tarifas abrem uma fissura entre os princípios fundacionais do livre comércio e o exercício real do poder, na China atuam como confirmação de uma leitura de mundo que nunca dissocia economia e política, soberania e desenvolvimento. Nessa assimetria de interpretação não se confrontam apenas dois modelos; também se revelam dois horizontes distintos: entre quem experimenta um ponto de ruptura e quem lê no conflito a confirmação de sua continuidade e ascensão.